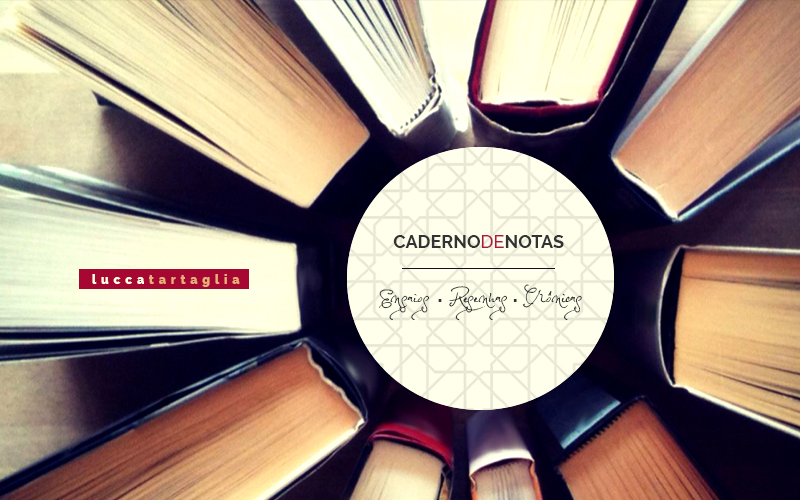Corriam livres, o homem e o animal.
Assim disseram, certa vez, e disseram que as pernas eram o vento e que o vento deslizava sobre a face das águas e que os corpos eram a um só coração e que o dia e a noite eram o tempo da eternidade a um só tempo, um instante que não se movia, antes do nascimento da morte e pouco depois do céu afastado, quando o amor era ainda um projeto e pairava, acima das ondas, como espuma, buscando um areal que o soubesse acolher.
Depois,
disseram,
as primeiras cidades brotaram do chão e as primeiras torres vieram e as muralhas e as ruas e as guerras, mas os dois – que, a essa altura, já eram dois – seguiram correndo, ao redor das colinas, entre os arvoredos, no vão das minúcias, nos detalhes passageiros, nos ruídos diminutos, na grandeza do firmamento.
Então,
pelo que contam,
veio a hora da paragem.
O solo cobriu-se de pedras, os troncos ficaram mais finos, os frutos, iluminados, e os cipós correram, regularmente, de uma copa à outra. As cores ficaram menos coloridas, os sons, mais metálicos, as tocas, mais confortáveis. A encosta enfeitou-se de casas e as casas pareciam caixotes e os caixotes cresciam à beira das calçadas, nas proximidades da feira – nos arredores dos sábados, quando os dias ganharam nomes e as noites perderam a autonomia. Passaram a caminhar, melindrosamente, um ao lado do outro, o homem e o animal. Especulativos, a colher de perto as novidades. Tinham, ainda, a mesma estatura, o mesmo empenho, a mesma força.
Dessa forma foi que,
de acordo com as fontes,
passaram, tão logo, a uma habitação. O homem e o animal, todos os dias, aguardavam o sol despontar emoldurado entre o risco distante dos montes. Esperavam, juntos, o primeiro calor daquele fio dourado que, rasgando o cômodo, ia dar na parede dos fundos e, sem demora, na cama e nos dois. E aquela febre era a lembrança distante e antiga de qualquer coisa fugidia – como era também a luz sem recheio da lua durante a noite, combatendo, até tarde, o fingimento das lâmpadas e do fogo. Foi por essa época, disseram, que o abismo, primeiro como um furo quase imperceptível, depois como um girassol, começou a florescer. De nada a quase nada, de quase nada a muito pouco – foi desdobrando, pétala a pétala, entre os dois.
E a pele do animal tornou-se avermelhada
e sobre a cabeça nasceram-lhe galhos
e pelos nasceram, aqui e ali, escondendo-lhe o corpo.
Tijolo em tijolo, uma parede – como hera – foi se erguendo, apoiando-se na textura nova dos minutos, no peso armado das horas, no denso volume do ar. Pela greta dos olhos, alguns silêncios, as desconfianças, uma e outra palavra aveludada, e uns resmungos rochosos garantiram a argamassa. As indisposições foram usadas como nivelador. Os defeitos foram cobertos com uma tinta à base de farsa, ironia, sarcasmo e sonsice. Para garantir a preservação, assegurando a impermeabilidade, aplicou-se o desligamento e, para que não houvesse infiltrações, o abandono.
No quarto, o animal esperou.
Às vezes, via passar, por debaixo da porta, criando um vago no risco amarelo do chão, um vulto – que passava acompanhado de algumas vozes. Eram sempre conversas polidas, sem alterações de tom ou de ritmo, sem sobreposições e de ânimos ponderados, muito regulares. A lembrança do homem, aos poucos, tornava-se difusa. A fome, a solidão, a sede e a falta de sono colaboravam para a borra que tomava, como um cancro, a malha frágil do passado, contaminando as escalas, perturbando as fronteiras e os traços mais finos.
Às vezes,
no meio da noite,
o corredor se iluminava.
Por duas ou três vezes, o animal teve a impressão de ver um tremor sem ruído na maçaneta. Uma respiração pesada do revés da madeira. Vez ou outra, depois da noite tomar canto, tinha a sensação de reconhecer um negrume mais intenso no vão escuro por debaixo da porta. Chamou, algumas vezes, e, algumas vezes, teve esperança.
Esperou.
Os ramos que brotavam de sua cabeça eram agora imensos. Sua pele, um brasil. Seus olhos, por terem bebido da sombra e da ausência por demasiado tempo, eram a noite da noite avolumada. Seus pés, por nunca se moverem, tornaram-se cascos. E a raiva e a revolta e a angústia, depois de crescidas, com as raízes bem cravadas e firmes, se alimentando largamente daquele rio profundo, davam já, depois da floração, seus primeiros frutos.
Até que um dia,
por distração ou esquecimento, disseram alguns,
por conta de uns goles, outros disseram,
o homem abriu a porta.
Por um instante, se encararam com surpresa. Não se reconheciam, o homem e o animal. Ficaram imóveis, testando o contato, medindo a distância, reconhecendo o perímetro. Ele já não sabia a razão do quarto, nem o porquê de estar no quarto, nem os motivos de permanecer ali. Ele não sabia o propósito da porta, o que guardava ou escondia ou preservava. Ele passava todos os dias por ali. Ele sempre esteve ali. Algumas vezes, sem saber a causa, sentiu-se tentado a entrar. Sentiu-se, algumas vezes, preso. Quis sair.
Ele,
o homem e o animal.