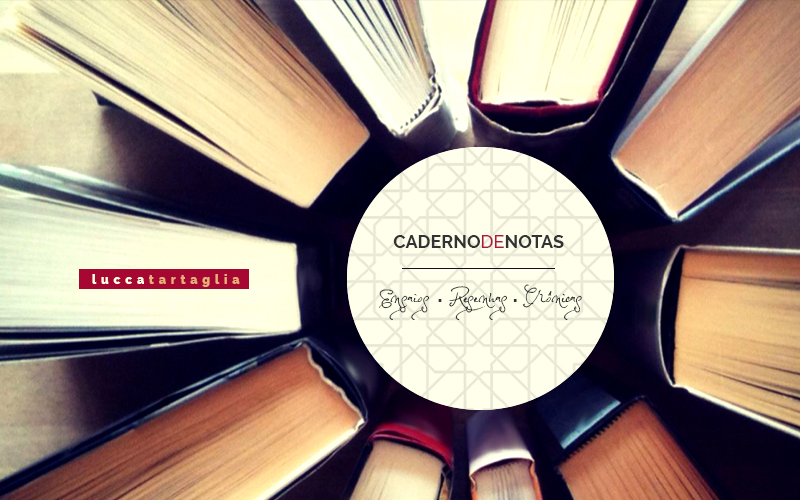Em 2010, na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), Ferreira Gullar, durante uma entrevista, disse: “A poesia transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. A arte existe porque a vida não basta”. Da declaração de Gullar, roubemos dois pontos: 1) a arte surge como recurso à insuficiência da vida; 2) a poesia “transfigura as coisas” – ou seja, muda a figura, a feição, o caráter das coisas – “mesmo quando se está no abismo”, ou, em outras palavras, entendendo figurativamente, em uma grande depressão, na ausência de sentido, etc. Claro, não há, por suporto, apenas uma ideia de arte e, evidentemente, a visão de Gullar não tem a supremacia sobre as outras, mas partiremos – em virtude do esboço – de um sentido “gullariano”, por assim dizer, deixando de lado uma visão mais geral que apontaria para “todo conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer”. O conceito “gullariano” – é preciso dizer – passa pela ideia da arte como necessidade vital do ser humano.
Schopenhauer, em sua obra máxima, O mundo como vontade e como representação, fala sobre a “Vontade de viver”[1], apontando para a presença desse “ímpeto cego e irresistível”, desse impulso primitivo que habita tudo o que existe, “na natureza inorgânica e na natureza vegetal, assim como na parte vegetativa” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 343) da própria vida humana. Para ele, da mesma forma que nós, “sem o objeto, sem a representação”, não somos sujeitos que conhecem, “mas pura Vontade cega”, assim também sem nós, “como sujeito do conhecer, o objeto não é coisa conhecida, mas pura Vontade, ímpeto cego” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 248). De acordo com o filósofo alemão:
Como ímpeto cego e esforço destituído de conhecimento, a Vontade também aparece em toda a natureza inorgânica, ou seja, em todas as forças originárias, cuja investigação e descoberta de suas leis é tarefa da física e da química, sendo que cada uma dessas forças se expõe para nós em milhões de fenômenos similares e regulares, sem vestígio algum de caráter individual, meramente multiplicadas por tempo e espaço, isto é, pelo principium individuationis, parecidas a uma imagem multiplicada pelas facetas de um vidro. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 214)
Mantendo o foco da reflexão sobre a natureza orgânica – restrita, mais especificamente, aos animais – e tendo como hipótese válida a existência dessa “Vontade de viver”, sigamos para um outro ponto. Em “Da morte e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser-em-si”, capitulo 41 do “Suplemento ao livro quatro”, Schopenhauer faz o seguinte apontamento:
O animal vive sem ter conhecimento da morte: por isso o indivíduo do gênero animal desfruta imediatamente de toda a imutabilidade da espécie, visto que só tem consciência de si como infinito. Entre os homens surgiu, com a razão, por uma conexão necessária, a certeza terrível da morte. Mas, como sempre na natureza a todo mal é dado um remédio, ou pelo menos uma compensação, então essa mesma reflexão, que nasce da ideia da morte, também nos leva às concepções metafísicas consoladoras, das quais a necessidade e possibilidade são igualmente desconhecidas ao animal. É, em especial, em torno desse fim que se dirigem todos os sistemas religiosos e filosóficos, que são, portanto, como que o antídoto que a razão, por força de suas reflexões, fornece contra a certeza da morte” (SCHOPENHAUER, 2008, p. 23).
A ideia de que o animal “não tem conhecimento” da morte não deve ser confundida com a noção de “destemor”, ou seja, não deve ser entendida como se o animal se entregasse, sem medo, à total aniquilação. “Dentro da linguagem da natureza, morte significa aniquilação” e, segundo Schopenhauer, “o temor da morte é independente de todo conhecimento, pois o animal o possui, ainda que não conheça a morte. Tudo o que nasce já o traz consigo. Esse temor da morte a propri é justamente o reverso da vontade de vida, fundo comum de nosso ser” (SCHOPENHAUER, 2008, p. 25). Sendo assim, “conhecimento” é aqui compreendido como uma relação interna da consciência consigo mesma, um processo cognitivo que, necessariamente, envolve a razão.
Com essa “certeza terrível”, nasce no homem, por uma necessidade vital de atribuir sentido à própria existência, a “Vontade de crer”, o desejo semirracional de buscar por “concepções metafísicas consoladoras”, que, por estarem também atreladas à razão, escapam aos outros animais. Estendendo um pouco o apontamento de Schopenhauer – e, como veremos, concordando com Gullar – acreditamos que não só “todos os sistemas religiosos e filosóficos” se estabelecem em torno desse fim, mas também todas as formas de arte.
Antes de seguirmos, é preciso ressaltar que: 1) o uso que fizemos do conceito de Schopenhauer não segue os desdobramentos que o mesmo conceito teve na obra do filósofo, principalmente no que diz respeito à posição “moralizante” tão criticada e apontada por Nietzsche na coletânea Vontade de poder. Partimos do apontamento de Schopenhauer, mas “partir”, até agora, é tudo o que fizemos com relação ao esboço dessa teoria; 2) a “Vontade de crer” mencionada acima se aproxima da defendida por William James, mas é apenas “próxima”, porque não se trata, nessa ocasião, de ter ou não o direito “a adotar uma atitude de crença em questões religiosas, mesmo que nosso intelecto meramente lógico talvez não tenha sido compelido a isso” (JAMES, 2001, p. 08), mas de um “desejo de transcendência” que estaria uma pouco anterior à “vontade” – como “direito” – de James, um desejo do homem de transcender à sua inevitável condição mortal e à aparente falta de sentido da vida. Ainda que James deixe claro a existência dessa “busca pela verdade”, por um sentido – quando debate, por exemplo, a posição de Clifford – a procura por “concepções metafísicas consoladoras”, apontado por Schopenhauer, se abeira mais do que intencionamos esboçar.
Julián Marías, um dos mais eminentes discípulos de Ortega y Gasset, em sua História da filosofia, declarou que a “religião, a arte e a filosofia dão ao homem uma convicção total sobre o sentido da realidade como um todo; mas não sem diferenças essenciais” (MARÍAS, 2004, p. 04). Essa ilusão holística possibilitaria ao homem – em uma primeira análise – conviver melhor com a “certeza terrível da morte”, ou, pelo menos, criaria, para ele, uma fuga no que diz respeito à sua impotência perante a finitude.
Assim, a “Vontade de viver” e a necessidade de “concepções metafísicas consoladoras” – ou, muitas vezes, de “concepções consoladores” não metafísicas – para combater o medo da morte, se harmonizam com a visão de Gullar, quando este, por exemplo, em um texto publicado n’O Globo[2], afirma:
Em busca de soluções, o homem inventou Deus, que é a resposta às perguntas sem resposta. Por isso mesmo, e não por acaso, todas as civilizações criaram religiões, diferentes modos de inventar Deus e de dar sentido à vida. Há, porém, quem não acredita em Deus e busca outra maneira de dar sentido à existência, à sua e a do próprio universo.
Conforme aponta o poeta brasileiro, “esses são os filósofos”, mas “há também os que, em vez de tentar explicar a realidade, inventam-na e reinventam-na por meio da música, da pintura, da poesia, enfim, das diversas possibilidades de responder à perplexidade com o deslumbramento e a beleza”.
Dessa forma, a arte surge como um recurso à insuficiência da vida, ela “existe porque a vida não basta”, porque a vida, em seu estado bruto e imediato, é insuportável”, porque ela é – na ausência de sentido – o próprio “abismo”.
Gullar, no documentário de Zelito Viana, “A necessidade da Arte”, volta a defender seu ponto de vista, e – em dada medida – corrobora com os apontamentos de Schopenhauer – dizendo que “todo bicho nasce completo”, mas que o homem, além de precisar de instrumentos para lidar com o mundo material – durante a pré-história, por exemplo, nas caçadas – tem de enfrentar o “grilo” de não saber “o que está fazendo aqui”. No mesmo artigo d’O Globo, o artista – deixando evidente a ligação do seu pensamento com o schopenhauriano – salienta:
Sem pretender complicar as coisas, devo, no entanto, admitir que o ser humano tem necessidade de atribuir sentido à sua existência.
Ao que eu saiba, gato, cachorro, cavalo, macaco, não têm necessidade disso. Começa que, ao contrário do bicho-homem, não sabem que vão morrer. E aí está todo o problema: se vamos morrer, para que existimos?, perguntamos nós, sejamos filósofos ou não.
Portanto, a arte, na perspectiva gullariana, nasce, em primeira instância, porque a vida – sendo demais para o homem, demasiadamente finita, demasiadamente sem sentido – não basta.
Ainda que recaia sobre esse “rascunho de hipótese” a acusação de adotar uma posição ultrapassada, uma visão de “retaguarda”, por recorrer à ideia de “vontade”, mais ligada à filosofia tradicional e à psicologia oitocentista, ao pensamento de Schopenhauer, de William James – o avô (antigo pai) da psicologia moderna – ou mesmo ao de Ferreira Gullar, o esforço de reflexão é (será) ainda válido. Além disso, devemos nos lembrar, trata-se de um esboço e, por enquanto, de nada mais. Ou podemos, ainda, concluir a história com uma frase célebre de um pensador desconhecido: “na verdade, o homem é um animal muito criativo” e só.
[1] Não devemos confundir essa “vontade” com a noção clássica, que está em Platão, Aristóteles e mesmo em Tomás de Aquino, a noção que opõe desejo racional, ou apetite compatível com a razão, e desejo como apetite sensível.
[2] O texto foi publicado no dia 31 de julho de 2016, alguns meses antes de Gullar falecer.
Bibliografia citada:
JAMES, William. A vontade de crer. Trad. Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Editora Loyola, 2001.
MARÍAS, Julián. História da filosofia. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
SCHOPENHAUER, Arthur. “Da morte e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser-em-si”. In: ______. Da morte – Metafísica do amor – Do sofrimento do mundo. Trad. Claudia Berliner. Martin Claret: São Paulo, 2008.
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e como representação. Trad. Jair Barboza. São Paulo: Editora UNESP, 2005.