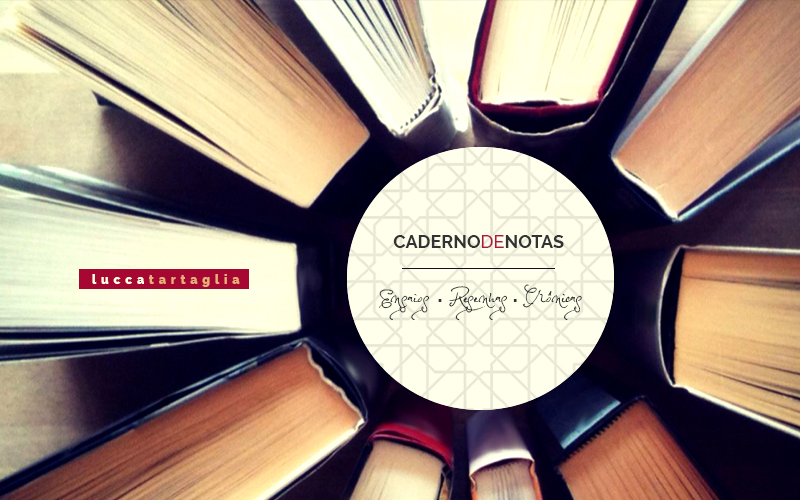A alquimia sempre povoou o imaginário dos sujeitos ao longo da história, a começar pela busca da pedra filosofal ou a fonte da juventude, a própria História da Alquimia apresenta um rico universo com uma imensa variedade de obras e artigos. O tema, em questão, apresenta vários tópicos interessantes, como a relação entre alquimia e teoria da matéria, medicina, química, geologia e filosofia, outros recorreram às ferramentas da arte, da história, história religiosa e mesmo arqueologia para compreender a história da alquimia, ligando-a à história do corpo e da história da ciência, bem como à história da arte, literatura e cultura material. Em suma, os estudiosos da alquimia estavam engajados numa ampla e interdisciplinar gama de tópicos que se apresentavam, não apenas na história da ciência, mas também da arte, literatura e história social e cultural européia de forma ampla ou seja, a alquimia continua a ser um tópico particularmente importante para a história da ciência, arte e da filosofia, especialmente no início da Sociedade Moderna, período esse que produziu adeptos da alquimia algumas das figuras mais ilustres da ciência, incluindo Robert Boyle e Isaac Newton, ambos engajaram-se nos estudos da alquimia e várias formas intrincadas de elaboração matemática, buscando respostas as suas aflições intelectuais, na arte temos representações pictóricas em Hieronymus Bosch, Rembrandt, Goya, John Henry Fuseli e Willian Blake e na literatura temos feiticeiras e seres mágicos em William Shakespeare com Macbeth e Goethe com Fausto. Para compreendermos a relação entre alquimia e ciência, temos que discutir o papel que o empirismo, no início da gênese do capitalismo, desempenhou como ponto de partida dos pensadores modernos, sendo assim, cada vez mais vem à tona que a alquimia aponta para a possibilidade de ampliar estudos que visam incorporar um amplo espectro de experimentadores e novas formas de conhecimento sobre a natureza em obras definidas como “nova ciência” no início período do Renascimento.

Concomitante livresca e experiencial, a alquimia era conhecida como um conjunto de conhecimentos empíricos e receitas, acumulados pelos precursores da química, porém como a medicina, a alquimia sempre foi tanto teórica quanto prática. Por outro lado, a alquimia tinha uma longa tradição textual, emergindo das penas de estudiosos que buscavam compreender as origens e os comportamentos dos metais e outras substâncias, o exemplo de transformar em ouro outras substâncias era um dos objetivos principais da alquimia. A alquimia surge na Antiguidade, provavelmente na Escola de Alexandria, onde os estudos alquímicos ligados ao núcleo de estudos aristotélicos, associados aos resultados obtidas empiricamente. Quando, por volta do século VII D.C., os árabes conquistam o Egito, a Síria e a Pérsia e trazem para o Ocidente, particularmente à Espanha, os seus conhecimentos alquímicos, que passam então a ser difundidos, por meio de textos medievais, textos estes que apresentavam em seu núcleo, o corpus alquímico, um conjunto sofisticado de teorias, elaboradas em contextos do pensamento clássico, islâmico e cristão. Por outro lado, a alquimia têm raízes igualmente profundas no mundo do artesão/Demiurgo – isto é, dos destiladores, mineiros, ourives e boticários, trabalhadores cujo conhecimento de águas, álcoois, metais e minerais, bem como os equipamentos e processos necessários para trabalhar com estas substâncias, constituem o fundamento prático da alquimia. De muitas maneiras, o intelectual, o estudioso e o artesão são de diferentes classes sociais, bem antes do início da Sociedade Moderna na Europa e do surgimento da burguesia; porém, já no trabalho do alquimista, entretanto, esses mundos sempre estiveram unidos. Os praticantes alquímicos, freqüentemente consultavam livros e praticavam as teorias no laboratório; da mesma forma, receitas, descrições de processos e imagens de equipamentos de destilação encontraram modelos de experiências na consulta aos textos alquímicos. Sendo assim, o objetivo do artigo é discorrer sobre a história das práticas dos alquímicos e discutir uma abordagem que envolve as seguintes questões: Que tipo de sujeito praticava alquimia e qual o seu tipo de projeto? Como as pessoas aprenderam a fazer alquimia? Em que tipo de espaço os alquimistas trabalharam e que tipo de equipamento, e materiais eles utilizavam? Em suma, o que significava “fazer alquimia”? Responder a essas perguntas exigem do pesquisador procurar novas fontes, incluindo cadernos de anotações de laboratório, documentos que descrevem o trabalho alquímico e artefatos arqueológicos.

Junto com os textos clássicos, como tratados alquímicos, essas fontes mais recentes permitiram que os estudiosos produzissem uma compreensão da alquimia como um produto social e cultural de uma determinada época. Então, podemos perguntar, o que significava praticar a alquimia no início da Sociedade Moderna na Europa? Na obra “Alquimia e Misticismo”, de Alexander Roob (2020), o autor pretende responder ao apresentar o chamado “Museu Hermético”, a obra propõe discorrer sobre o universo ilustrado da alquimia, desde do cosmorama medieval até a arte romântica na Europa.
Para Roob (2020), a alquimia era pelo menos, em parte, uma prática textual e mística. Como um repositório de teoria alquímica, as informações sobre processos e, potencialmente, segredos preciosos, o corpus alquímico, ofereceram um recurso importante, embora complexo, para muitos estudantes e praticantes de alquimia. Muitos alquimistas da Baixa Idade Média e do início do Renascimento compartilhavam a intuição de seus contemporâneos, o de olhar para o passado em busca de conhecimento confiável, de certa forma canônico, localizando os fundamentos da alquimia em escritos atribuídos (embora às vezes de forma pseudônima) a adeptos de séculos passados. Segundo King (1996, p. 13):
“A meados do século XV foram redescobertos os textos herméticos, quando um monge levou a Cosme de Médicis, Marsílio Ficino, tinha ainda sem terminar a tradução completa de Platão, deu prioridade ao Corpus Hermeticum; e entre 1463, data da versão de Ficino, e o final do século seguinte, foram impressas nada menos que 16 edições.”
O estudo da alquimia, portanto, frequentemente começava com a coleta e o escrutínio de textos antigos em várias bibliotecas e monastérios espalhados na Europa e no Oriente Médio. No início do período moderno, um crescente número de novos textos, tanto em latim, árabe, quanto em vernáculo, começaram a superar os cânones antigos. Tratados contemporâneos, comentários, poesia alquímica e fragmentos de receitas prometiam novas ideias e concepções sobre a alquimia, interessando os primeiros leitores modernos e adicionando há já longa lista de textos antigos. O processo de coletar, avaliar, comparar e comentar todos esses textos envolveram muitos alquimistas e adeptos da alquimia, assim como qualquer pessoa interessada em descobrir os segredos da natureza, ou seja, os textos alquímicos não eram tão simples de se trabalhar ou compreender, eram textos denominados herméticos. Esses textos herméticos eram preenchidos com linguagem altamente alegórica, usavam codinomes para determinadas substâncias ou empregavam outras técnicas de ocultação para evitar que segredos alquímicos caíssem em mãos “erradas”. Além da “confusão terminológica” resultante, qualquer pessoa que colecione textos alquímicos teria que lidar com uma variedade desconcertante de gêneros e formas: misturas de receitas vernáculas, trechos descontextualizados de tratados, série de imagens e iconografias representando processos alquímicos, poesia alquímica, fragmentos de manuscritos, muitas vezes anônimos, e fragmentos de textos de segunda mão supostamente recolhidos por adeptos misteriosos ou outros praticantes. O que fazer com todos esses pedaços e peças, especialmente se cada um tinha o potencial de revelar um segredo valioso, como o verdadeiro método de preparar a pedra filosofal ou manter o fogo na temperatura adequada?
Roob (2020) aponta que, como leitores, compiladores e tomadores de notas às voltas com uma tradição textual complicada, os alquimistas têm um lugar importante na história da erudição, da leitura e da construção de formas particularmente antigas de conhecimento científico.
Os alquimistas raramente liam e escreviam sobre alquimia sem antes passar pela experiência, entretanto; eles coletavam, comparavam e organizavam fragmentos de texto a fim de localizar elixires e métodos de processos alquímicos, testar teorias e colocar em prática experiências com os vários tipos de metais. Uma série de estudos recentes, segundo Roob (2020), os alquimistas concebiam a natureza nas suas múltiplas facetas, como uma espécie de escrita cifrada, um imenso criptograma com o propósito de ser desvendado por determinadas técnicas, portanto, os alquímicos exploraram de forma constante a relação entre os textos e a prática alquímica. O objetivo do envolvimento com a natureza – na verdade, a própria prova de que o praticante havia alcançado certo conhecimento – era a produção de elementos, particularmente elementos que poderiam imitar os próprios poderes criativos da natureza, ligando-se a máxima da relação entre o saber e o fazer.
Em suma, o objetivo principal, na maioria dos casos, não era contribuir para a produção de uma teoria alquímica, seja em manuscrito ou impresso, mas, sim, usar a alquimia para produzir novos elementos, sejam eles elixires, metais preciosos ou pedras preciosas, além de desvendar o microcosmo e o macrocosmo. Portanto, esta ênfase em produzir elementos ligando a alquimia textual à cultura artesanal e comercial das primeiras cidades europeias modernas, levaram os alquimista, frequentemente a se juntavam aos seus colegas artesãos na esperança de que sua experiência no trabalho, com materiais ou metais, proporcionassem vida ou anima. Lembrando, que a prática da alquimia diferia de outros ofícios, por não ser organizada em guildas, o comércio de segredos alquímicos, incluiu a alquimia à crescente cultura comercial do início da Sociedade Moderna. Como fornecedores de técnicas, práticas, invenções e curas, os alquimistas também eram apreciados por mecenas principescos, que os empregavam para desenvolver práticas de cura, invenções e aumentar as suas fortunas. Portanto, muitos dos alquimistas, trabalhavam não apenas nas cidades, mas também na corte de um determinado príncipe ou rei, assumindo cargos assalariados para produzir elixires em laboratórios alquímicos ou assumindo projetos arriscados em um esforço para sustentar as práticas alquímicas.
Os praticantes da alquimia também atribuíam outros significados ao seu trabalho experimental, Segundo Roob (2020), os químicos dos experimentos laboratoriais como Andreas Libavius, procuravam aperfeiçoar os princípios empíricos da alquimia, aproximando-a desse modo dessa forma da química analítica, ora esta multivalência da alquimia, de fato, é precisamente o ponto, e emerge mais claramente dos estudos sobre a história da alquimia.
No início do período moderno, os sujeitos podiam se envolver com a alquimia como estudiosos, artesãos, pastores, mecenas e burgueses, situando-se em uma variedade de espaços sociais e culturais. Na ausência de guildas ou de um sistema de licenciamento para estabelecer normas e policiar os limites da prática “legítima”, a alquimia permaneceu acessível a pessoas de quase todos as classes sociais, além disso, essa falta de regulamentação garantiu que a alquimia fosse maleável o suficiente para permitir que alquimistas e seus mecenas improvisassem quando construíssem laboratórios, avaliassem as habilidades dos praticantes. Contudo, essa abordagem foi crucial para colocar a alquimia na paisagem social, cultural e intelectual da história européia, ligando-a ao comércio, à cultura urbana, às demandas da Reforma e assim por diante. Roob (2020) aponta a diferença entre os alquimistas teosóficos, ligados a Rosa Cruz, e os da prática laboratorial, de um lado, profundamente imersos no trabalho de classificar os ricos e variados vestígios textuais de compromissos antigos e contemporâneos com a alquimia, e aqueles que se engajaram na alquimia experimental, com o intuito de produzir elixires, águas, a pedra filosofal e outros produtos alquímicos. Para King (1996, p. 55):
“A alquimia manteve sempre estreita relação com a magia ritual. Alguns Magos consideraram um mero ramo da magia, alegando que o alquimista que preparasse a pedra filosofal estaria simplesmente purificando a matéria inferior, do mesmo que o celebrante de um ritual de iniciação purifica o candidato.”
Frances Yates (2007) lembra que a intenção dos folhetos rosa-cruciamos era estimular o espírito pesquisador, por meio de alegorias, apoiar politicamente os protestantes do Palatino. Contudo, a maioria dos alquimistas ficavam em algum ponto intermediário, entre os dois mundos, entre textos e experiências, entre realizações tecnológicas e as experiências práticas com os componentes espirituais e mágicos.
Essa ênfase na integração de textos e experimentação alquímica, juntamente com o reconhecimento do amplo espectro de compromissos com a alquimia, restituiu a alquimia na historiografia graças ao trabalho da historiadora Francis Yates (1899-1981), já citada, ou seja, a alquimia habitou o reino interdisciplinar da história intelectual do Renascimento, ligada aos estudos de hermetismo, magia natural, arte, literatura e “filosofia oculta”, memória, a ênfase na experiência deixou claro não apenas que a alquimia compartilhava muito com a história da química e da medicina, mas também envolveu sujeitos de diferentes classes sociais, do artesão ao aristocrata e burguês , todos contribuíram na expansão da cultura impressa, no surgimento da ciência moderna e de novas formas de comércio, produzindo uma nova forma de perceber a natureza e sua relação com o homem, transformando a relação entre empirismo e ciência, impactando nas artes e produzindo efeitos duradouros em várias áreas. Os estudiosos agora reconhecem amplamente que qualquer história da alquimia deve levar em consideração a relação dos fundamentos teóricos e experimentais. Portanto, se desejamos compreender o desenvolvimento do conhecimento sobre a natureza no início da Sociedade Moderna, devemos resgatar o papel da alquimia na gênese do capitalismo e sua relação com o surgimento da ciência moderna.
Referências
DANGELMAIER, Ruth. Bosch. Paris: Könemann, 2018.
KING, Francis. Magia. Portugal: Ediciones del Prado, 1996.
ROOB, Alexander. Alquimia & Misticismo: O museu hermético. Portugal: Taschen, 2020.
YATES, Frances A. A arte da memória. Campinas: Ed. Da Unicamp, 2007.