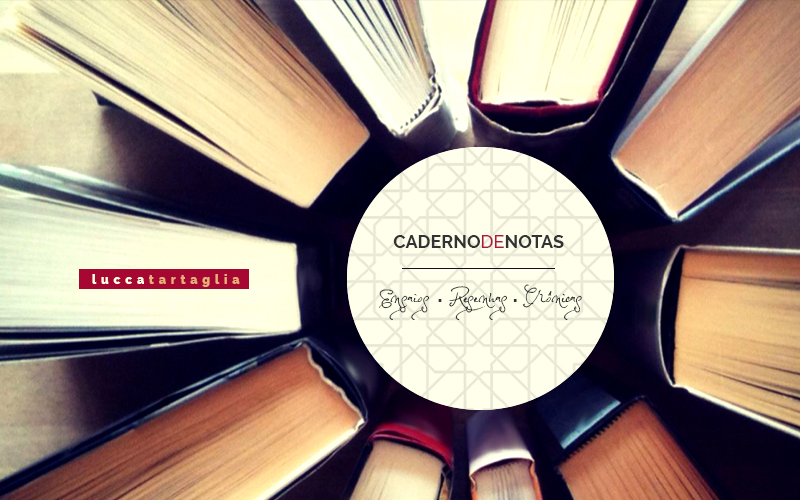Na última quarta-feira, dia 05 de setembro, aconteceu, no Real Gabinete Português de Leitura (RJ), o 9º Colóquio do PPLB – Relações luso-brasileiras: Imagens e imaginários. Durante uma das comunicações, uma ouvinte corajosa questionou a proposta apresentada pelo comunicante, salientando que, ao seu ver, a apreciação estética e a ideia de belo nas artes visuais, na música e na arquitetura, por exemplo, não são uniformes para todo o gênero humano, ou seja, o que para alguns indivíduos pode ser maravilhoso, pode, para outros, representar a presença do opressor. Disse ainda a moça (ou eu assim ouvi): “Esse lugar, o Real Gabinete, por exemplo, te encanta, mas pode não exercer o mesmo efeito encantatório sobre os demais. O nível de requinte e a atmosfera formal podem ser esmagadores”. Se considerarmos, concordando com Aristóteles, que o homem é um animal político e que, tendendo para o pensamento de Bourdieu, tudo o que ele produz carrega também traços políticos, acreditar que as artes – algumas mais que outras – tocam o ser humano de forma universal, a despeito dos contextos espaço-temporais, parece-nos, mais que inocência, presunção. O pensamento, profundamente enraizado em bases etnocêntricas[1], pode nos levar a uma “ilusão naturalista”, a uma falsa impressão de que algo construído socialmente é natural do gênero da espécie, transformando, dessa forma, a história em natureza, o arbitrário cultural em natural – os processos decorrentes dessa transformação, a “socialização do biológico” e a “biologização do social”, podem ter efeitos catastróficos, como racismo, homofobia, eugenia, etc.
A ouvinte, porém, deixa claro que não seria essa a questão principal de sua intervenção, que o apontamento sobre o belo fora apenas uma nota solta antes da pergunta, apenas uma provocação. A indagação central se voltava para o “lugar de fala”: _Você não acha um pouco inocente acreditar que o escritor consiga de fato se colocar no lugar do outro? O comunicante disse que não, que não considerava uma “inocente”. Disse ainda que, se o exercício não fosse possível, a ficção também não seria e a literatura poderia acabar, porque, de acordo com o ele, não há outro modo de fazer ficção. A própria concepção do que é ou não literatura, nesse caso, indica um certo ponto de vista, mas, pelo bem da nota, vamos ficar na questão do “lugar de fala”.
A inocência, parece-nos, não está em “outrar-se”, mas, tão somente, em supor que o exercício pode ser, de fato, concluído com êxito. A tentativa de se colocar no lugar do outro, em sua imensa solidão, é uma empreitada que já nasce falida, mas que pode falhar mais ou menos quanto mais o exercício de aprofundamento do escritor o permitir chegar à beira do abismo que nos descontinua. A escrita, em si, já é uma falha. O ponto que nos conecta é fugidio e inominável. Aldous Huxley, em As portas da percepção, aponta:
Vivemos, agimos e reagimos uns com os outros; mas sempre, e sob quaisquer circunstâncias, existimos a sós. Os mártires penetram na arena de mãos dadas; mas são crucificados sozinhos. Abraçados, os amantes buscam desesperadamente fundir seus êxtases isolados em uma única autotranscedência; debalde. Por sua própria natureza, cada espírito, em sua prisão corpórea, está condenado a sofrer e gozar em solidão. Sensações, sentimentos, concepções, fantasias – tudo isso são coisas privadas e, a não ser por meio de símbolos, e indiretamente, não podem ser transmitidas. Podemos acumular informações sobre experiências, mas nunca as próprias experiências. Da família à nação, cada grupo humano é uma sociedade de universos insulares.
Quando o escritor consegue, através do seu exercício de outrar-se, arranhar a superfície da solidão, causando tremores na fundura mais distante do sem nome, nas profundezas do nosso lugar – como pedra que tocasse a superfície de um lago – reconhecemos, na obra, um vulto conhecido, mas não é o “lugar do outro” que desponta, é o nosso lugar ampliado por um exercício de compaixão (co-paixão). Através da literatura, podemos sentir juntos, sentir “com” o outro, mas não chegamos a sentir o mesmo que o outro. Ao ler A cidade de Deus, do Paulo Lins, Quarto de despejo, da Carolina de Jesus, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, ou A geração da utopia, de Pepetela, não vivemos o que aqueles personagens vivem, mas sentimos a vida daqueles personagens através do que nós mesmos já vivemos, através das nossas próprias experiências. O que surge é uma terceira vivência, que não é nossa, que não é deles, mas que é compartilhada. O lugar do outro é o lugar do outro e não devemos colonizá-lo com o pretexto, mesmo que bem-intencionado, de compreendê-lo. Podemos visitá-lo, mas não o desabrigar.
Temos, por isso, de interromper toda e qualquer atividade de ficção? Será preciso, em favor do politicamente correto, parar com toda e qualquer tentativa de alcançar uma vida que não é a nossa? Claro que não. A vida não é assim tão dicotômica, tão maniqueísta; a literatura, também não é. Talvez nós tenhamos de aceitar, logo e de uma vez por todas, a nossa vocação de não poder, o nosso ofício de falha, de falta e erro. Clarice Lispector, n’A paixão segundo G.H., escreve:
A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la — e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas — volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.
Pela brecha que a fricção causou, pela marca que o instrumento (linguagem) causou na matéria (realidade), é que se revela o que não pode ser dito, o que só aparece no lampejo do desvio, quando a obra, cuidadosamente trabalhada, trinca, inaugurando, na rasura, o inesperado. Acerca do verso que fecha o poema “A palavra”, de Stefan George, Heidegger, em A caminho da linguagem, escreve:
É grande a tentação de transformar o último verso no seguinte enunciado: nenhuma coisa é (existe) onde falta a palavra. Onde falta alguma coisa, há interrupção, ruptura, rompimento. Interromper uma coisa é retirar dela alguma coisa, é deixá-la falhar. Faltar significa falhar. Onde a palavra falha, não há coisa. A palavra disponível é o que confere ser à coisa.
Assim, a literatura surge entre palavra e silêncio, buscando nomear a coisa que habita o lugar impossível do não-ser. Assim, a literatura falha, apresentando vestígios, indícios do que escapa à própria linguagem.
O escritor trabalha no campo do indizível, entre os objetos fugidios, e tem de lidar com o fato de que – recorrendo a Wittgenstein – “para uma resposta inexprimível é inexprimível a pergunta”. “Se uma questão é colocada poderá também ser respondida”, aponta o filósofo austríaco, mas, não raro, a literatura caminha pela quietude ensurdecedora das coisas sem nome. A fagulha que nasce do atrito entre a palavra e o indizível, esse “erro”, essa “falha”, é o que, como um estranho, adentra a nossa casa e, estranhamente, retira de nós, por um instante, tudo o que é confiável e habitual, deslocando nossa visão para um momento no qual não podemos permanecer. Depois da experiência, do movimento, “o novo em nós”, como diria Rilke, “o acréscimo, entrou em nosso coração, alcançou seu recanto mais íntimo e mesmo ali ele já não está mais – está no sangue. E não percebemos o que houve”.
Se para o autor do Tractatus lógico-philosophicus o “que não se pode falar, deve-se calar”, para a literatura – ou no exercício de “outrar-se” próprio da literatura – o que não se pode falar, deve-se arriscar. Em suma, todo aquele que se dedica à ficção deve estar ciente da sua “vocação de não poder”, de que “a realidade é a matéria-prima” e “a linguagem é o modo como” a buscamos, sem, no entanto, encontrá-la. Deve saber que a literatura é um ponto de luz em “uma sociedade de universos insulares”.
Haverá sempre, no entanto, o benefício da dúvida e a chance do equívoco. As interpretações – da ouvinte, do comunicante, do escrevinhador – podem estar “desacertadas” e a conversa podia ser outra se viesse de outro lugar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Luciano Ferreira de Souza. São Paulo: Marin Claret, 2015.
BATAILLE, George. O erotismo. Trad. Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987.
HUXLEY, Aldous. As portas da percepção e Céu e inferno. Trad. Marcelo Brandão Cipolla e Thiago Blumenthal. São Paulo: Biblioteca Azul, 2015.
RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta. Trad. Pedro Süssekind. Porto Alegre: L&PM, 2008.
______. Elegias de Duíno. Trad. Dora Ferreira da Silva. São Paulo: Biblioteca Azul, 2013.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968.
[1] Não raro, o indivíduo, estando ao pé do campanário, sob as suas bases, aponta e condena, veementemente, aqueles que, a sua volta, defendem o som dos sinos e a beleza da torre, sem perceber que a noite estacionada, o clima adverso, é a sombra da construção.