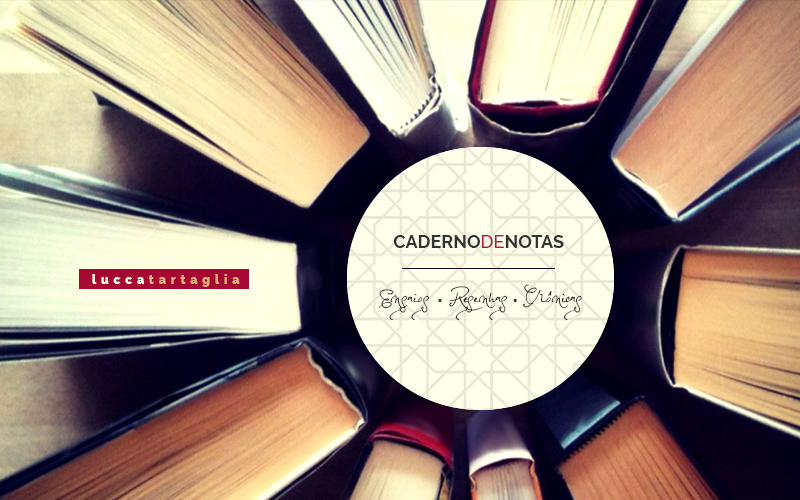‘Liberdade’ é mais um desses valores humanos que só existem plenamente no dicionário, diferentemente da ideia de liberdade que povoa as cabeças humanas. Rigorosamente, ninguém sabe se Deus existe, mas a ideia de Deus fez e continua fazendo história. A ideia não precisa ser verdadeira, basta que tenha adeptos para alterar a realidade.
A ideia de liberdade provém de nossa condição de indeterminação. Não temos instintos, mas pulsões, como disse Freud. Animais sabem o que fazer logo quando nascem, os humanos não. Precisamos ser educados. Instintos são respostas rígidas aos estímulos. Mas, os humanos não têm respostas rígidas aos afetos. Logo, a indeterminação, vista como possibilidade de nos diferenciarmos, conduz à ideia de liberdade. Embora os outros animais sejam harmônicos com a natureza, a humanidade precisou criar a cultura para acomodar sua condição indeterminada.
Instintivos, os outros animais já sabem o que fazer ao nascer. Nós, humanos, sem saber o que fazer, tivemos de inventar regras para conviver entre nós. As primeiras regras foram os mitos. O mito é uma narrativa de construção de valores, que podem nos dizer sobre o que o certo e o errado, o bom e o mau, o verdadeiro e o falso para a comunidade em que estamos inseridos.
Juntamente com os mitos, vieram os ritos ou rituais.
‘Rito’ em sânscrito quer dizer “ordem”. A sucessão de rituais dentro de uma comunidade auxilia seus membros a saber o que devem ou não fazer, como agir, que lugar ocupar. Tribos ainda existentes em várias partes do mundo dão exemplos claros do modo ritual de comportamento. Quando qualquer membro é culpado de violar um ritual é expulso da comunidade para morrer na selva, pois sua noção de pertencimento é tamanha, que não sabe como viver fora da tribo.
Nas sociedades mais complexas, os ritos e rituais se transformam em instituições sociais. Elas cumprem o papel de nos informar sobre o que fazer, como agir e quem ser diante da sociedade. Nossa falta de instintos demandou a invenção de forças externas (instituições sociais) que visam manter e ensinar códigos de comportamentos. A humanidade se autocodifica através das instituições.
Segundo Platão, quando os deuses abandonaram a humanidade à própria sorte, obrigou-nos ao autogoverno e para isso inventamos a política – a arte de governar a pólis.
A ideia de liberdade, como um efeito colateral da condição de indeterminação, nos ofereceu uma plasticidade sociocultural, devido nossa natureza carente: carecemos de instintos. Os gregos entenderam isso rapidamente e viram que a liberdade não é exatamente uma qualidade humana, mas uma necessidade. Para aqueles antigos gregos, o mundo é regulado pela categoria da necessidade, que governa a natureza, vista como um fundo perene, que nenhum deus criou. Para eles, tanto os deuses como os humanos vivem dentro da natureza.
Por esses motivos, os antigos gregos formaram uma sociedade e uma cultura fundada pela condição de finitude humana, porque sempre acreditaram que as pessoas são mortais, têm seu limite derradeiro no fim de sua vida. A ideia dos gregos para definir o humano é “aquele que está destinado a morrer”.
Sobre essa verdade insofismável, os antigos gregos construíram uma ética da finitude. Por aquele código não devíamos ultrapassar nossos limites, de modo que não nos tornássemos soberbos, a ponto de imitar os deuses. Os que tentam ultrapassar os limites de sua humanidade preparam a própria ruína. Boa parte do teatro clássico grego representou tragédias e dramas sobre a ascensão e a queda de heróis tomados pela soberba.
Muitos séculos depois, quando emerge para a história o movimento judaico-cristão, a ética grega da finitude humana é abandonada em favor da crença cristã na eternidade da alma. Se no mundo grego, a natureza hospedava tanto deuses como homens, no mundo judaico-cristão a natureza é criatura de Deus e deixa de ser um fundamento neutro, para reproduzir a vontade divina.
Segundo o Genesis, ao fim de cada dia da criação, Deus se cumprimentou por suas obras, afirmando que elas são boas. Deus as cria e recomenda a Adão que o homem as torne em seu domínio. Mas, a dominação do homem sobre o mundo implicou em conhecimento das coisas, por isso a necessidade das tecnologias e das ciências.
Por causa desse ímpeto cristão pelo domínio da natureza, a ciência e a tecnologia tiveram grande avanço. Francis Bacon escreve em seu livro Novum Organun, que “scientia est potentia”. Ali ele escreve com todas as letras que a ciência surge para aliviar o homem das condenações que Deus lhe impôs, quando o expulsou do paraíso: a dor, o conhecimento da morte, a fadiga do trabalho. A ciência nasce como o cumprimento de uma profecia judaico-cristã.
Por isso, no ocidente, é bem difícil não pensar como cristão. Os crentes pensam que o passado é pecado, o presente é penitência e o futuro é salvação. Os cientistas ocidentais pensam que o passado é ignorância, o presente é pesquisa e o futuro, progresso. Os socialistas pensam que o passado é injustiça, o presente é revolução e o futuro é justiça social. Os psicanalistas pensam que o passado é trauma, o presente é análise e o futuro é cura.
Essas relações temporais positivas fazem dos cristãos, melhor dizendo, dos ocidentais, pessoas otimistas. O otimismo também pode ser arrolado como mais uma invenção cristã, já que ao final de tudo o bem irá triunfar. Ao contrário dos antigos gregos, que eram trágicos porque conheciam sua finitude, os cristãos se regozijam, porque jamais conhecerão a morte.
Na modernidade, uma das grandes influências do cristianismo pode ser observada no constituição do iluminismo. O cristianismo está na revolução francesa, carregando as bandeiras da liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, para os cristãos, é seu destino nos céus. A igualdade provém da crença de que todos somos filhos de deus. Enquanto a fraternidade, o cristão promove em função de seu dever de amar ao próximo.
Para o cristianismo, é muito importante que os homens sejam livres, de modo que possuam o livre-arbítrio, pois do contrário não poderiam ser responsabilizados pelos seus atos, não poderiam ser punidos pelos pecados. A salvação cristã depende da punição dos pecados, caso contrário não haveria a eleição dos justos – todos estariam salvos! Logo, é preciso ser livre para cometer ou não uma ação boa ou má.
A ideia de que o homem é livre, portanto, responsável pelos seus atos, baseia toda a ordem jurídica ocidental, que julga a partir da intensão de agir – ato culposo ou doloso. Curiosidade: quando Oppenheimer inventou a bomba atômica, seria possível responsabilizá-lo por Hiroshima e Nagazaki?
Hoje, no início da era pós-cristã, não se julga mais pela intensão de agir, mas pelo efeito de sua ação, como diz Max Webber. Ética da responsabilidade – a ação é julgada pelo efeito que produz, não mais pela intensão, que ninguém pode julgar corretamente.
No futuro haverá mais liberdade esperando por nós? Difícil dizer: se tivermos como exemplo o otimismo cristão, a resposta é sim. Se os antigos gregos estavam certos em seu modo trágico de pensar, a resposta é não. Há meio termo?