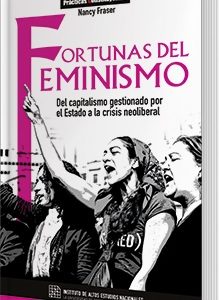
Mês de março, coluna de feminista… tínhamos que falar sobre mulheres. Mas, o que, exatamente? Dentre tantas pautas: ondas do feminismo, desigualdade salarial, violência contra as mulheres, mulheres negras, papéis de gênero, mulheres trans e transfeminismo, aborto, trabalhadoras domésticas, mulheres indígenas, maternidade, prisão feminina, mulheres na política, feminismo na ciência, ufa, dentre tantas pautas, era preciso eleger uma para esse mês.
Resolvi falar de um tema que em geral não tem tanta visibilidade entre as pautas feministas, mas na perspectiva de sociedade contemporânea, acaba por ter uma dimensão global significativa: a migração feminina e suas relações com os papeis de gênero, o mercado de trabalho e o capitalismo.
A situação de migração em geral envolve uma vulnerabilidade que afeta vários âmbitos da vida, uma vez que as pessoas migrantes, deslocadas de seu contexto pátrio, se veem – ao menos durante um tempo – sem referências e apoios de familiares e amigos/as, com dificuldades de comunicação, e sintomas de não pertencimento e exclusão social.
Tal vulnerabilidade, no contexto das mulheres, traz impacto direto em questões como maternidade e saúde. Muitas mulheres migrantes não têm com quem deixar seus filhos, o que acaba dificultando suas relações e oportunidades de trabalho no novo país. Além disso, a dificuldade no acesso aos códigos culturais faz com que as mulheres sejam parcialmente apartadas dos sistemas de saúde e educação, ou ao menos, pouco contempladas pelas políticas.
É comum a formação de redes entre as pessoas nessa situação: grupos de WhatsApp e de Facebook de mulheres brasileiras no país x, por exemplo. A estranha com a qual compartilham os códigos culturais torna-se do dia para a noite, menos estranha que as outras. É na solidariedade, portanto, que estas mulheres migrantes – casadas, solteiras ou enroladas, mães ou não, com trabalho formal ou não, com documentação legal ou não – se sustentam e resistem na condição de marginalidade a que acabam submetidas, mesmo as que possuem condição financeira de razoável para boa, pois a marginalidade é, antes de tudo, cultural e linguística, uma exclusão identitária que se torna também social.
Os motivos que levam as mulheres a migrar em geral estão associados, majoritariamente, a necessidades do trabalho e da família. Mais recentemente, os movimentos migratórios em que as mulheres têm assumido protagonismo em questões de trabalho estão relacionados a cadeias globais de cuidado, que são serviços ligados ao cuidado (limpeza, alimentação, higiene…). Cabe lembrar que tais serviços são, em geral, não tão bem remunerados (salvo algumas exceções) e não tão bem valorizados socialmente.
Por conta da prevalência ainda existente de homens em cargos de direção nas empresas multinacionais do mercado, muitas mulheres migram de país para acompanhar seus maridos em transição de carreira. Nesse processo, seus projetos de vida, sua rede de apoio, vínculos de amizade e suas próprias carreiras precisam ser redefinidas. Estas mulheres, que em seu país tinham consolidado um lugar profissional – ainda que com salários mais baixos que os dos homens, veem-se em uma condição de vulnerabilidade que remete a velhas estruturas das relações de gênero, em que o homem sustentava a família, enquanto a mulher cuidava da casa e das crianças.
Nancy Fraser (2015) traz em seus escritos o conceito de “salário familiar”, que se refere a este ideal de família, aparentemente já ultrapassado (mas, como vemos, ainda presente), no qual os homens ganham o sustento e as mulheres cuidam da casa, servindo de maneira estrutural a um capitalismo regulador. Anos depois, a autora aponta como a crítica feminista a este ideal de família passou nos últimos tempos, de globalização e neoliberalismo, a servir a um capitalismo flexível, que passou a explorar salários dos homens e das mulheres (FRASER, 2013). Lembrando que estas, no entanto, além de receberem salários mais baixos, acabam hiperexploradas, por sua condição tripla, que envolve o acúmulo de funções entre trabalho, maternidade e casa, de modo certamente mais intenso que o dos homens.
Algo de importante na crítica de Nancy Fraser é que o feminismo passou a ser um servo ou uma criada do capitalismo, reformulando os modelos de relações em bases que o capitalismo neoliberal e globalizado tão bem atua e conhece, como individualismo, independência, competitividade e meritocracia. Passamos a valorizar socialmente o esteriótipo de mulheres empresárias, chefes, empreendedoras, empoderadas dentro da lógica capitalista, e, com isso, alimentamos uma superestrutura capitalista, ao invés de romper com a mesma.
Vale lembrar do que o filósofo Byung-Chul (2017) chama de “sociedade do cansaço”. Seu livro começa, trazendo o mito de Prometeu como um símbolo de uma sociedade com foco no rendimento e no desempenho, na qual os sujeitos nos pensamos livres para fazer algo extraordinário, como roubar o fogo dos deuses, quando na prática estamos nos condenando a uma vida de dor e sacrifício autoimpostos, justamente pela ambiguidade de negarmos nossa condição humana finita e pelo fato de não enxergarmos limites. No mito, Prometeu desafia deuses e deusas em busca de seu desejo pelo poder e conhecimento representados pelo fogo, e o resultado é que ele se torna infinitamente exposto a um processo de exploração e mutilação. E quem o levou a isso, seria sua volúpia por ter, fazer, saber, conhecer, realizar.
Como em Prometeu, estamos cansados e cansadas de nos autoexplorar, acreditando que estamos escolhendo de modo livre realizar nossos próprios desejos, quando justamente esses desejos foram cooptados pelo sistema de rendimento e de consumo… Ambiguamente livres para escolher exatamente o que a sociedade quer e espera de nós e aquilo mesmo que nos torna escravos e escravas. Sem reconhecer limites e autoexplorados/as, como Prometeu.
Dentro dessa lógica do desempenho, do rendimento e do consequente cansaço, Byung-Chul Han (2017) chama atenção para o hiperconsumo na atualidade, assinalando que o sistema de trabalho e o capitalismo operam em um sistema do igual e da massificação. Nesse sentido, o autor indica que a metáfora do sistema imunológico não serve mais para explicar a sociedade atual, uma vez que ela traz a lógica de defesa contra um outro diferente e estranho. No entanto, diante da globalização e do consequente aumento de intercâmbio cultural, da intensificação dos processos migratórios, do advento da internet que horizontaliza a participação de diferentes pessoas no contexto público, a diversidade e o outro já não causam mais as mesmas reações de outrora. A globalização e o hiperconsumo produzem sociedades do igual. As grandes cidades estão parecidas entre si, com as mesmas marcas de produtos, mesmas empresas, arquiteturas similares. As identidades, nessa circunstância, estão submetidas a escolhas ilusórias de realização e emancipação.
Em nossos estudos, sobre sentido e projetos de vida em mulheres que migram para acompanhar seus maridos em transição de carreira, esse cenário proposto pelo filósofo coreano Han torna-se evidenciado, uma vez que o desenraizamento da migração e a hiperadaptação destas mulheres aos projetos de seus companheiros, fazem com que o sentido de suas vidas tenha que ser constantemente reelaborado, em um movimento que pode se tornar exaustivo ou de esvaziamento existencial. Há aqui, uma ambiguidade entre a velha estrutura dos papéis sociais de homens e mulheres na família (o salário familiar) – da qual as mulheres da geração atual pensavam ter se livrado – e o ideal de realização profissional vinculado ao capitalismo neoliberal, no qual as mulheres – pós-feminismo de segunda e terceira onda – mergulham, achando-se livres e empoderadas porque inseridas em lugares capitalistas de poder.
A autenticidade da construção do sentido da identidade dessas mulheres em situação de migração por um projeto familiar parece esmagada entre esses papeis (da antiga estrutura familiar e do ideal atual de mulher). Há uma desvalorização social do papel de dona de casa, mãe que acompanha o marido e toda uma narrativa que conduz as mulheres atuais para o mercado de trabalho. Por isso, ser mulher neste cenário contemporâneo, mas em um velho papel, é uma experiência feminina ambígua e desafiadora em termos de lugar social.
Uma pergunta que tenho feito às mulheres que migram para acompanhar seus maridos, deixando suas carreiras, redefinindo seus projetos, adaptando-se a vários fatores é: “Você acredita que seu marido faria o mesmo, caso a situação fosse inversa, ou seja, caso você fosse transferida de país por seu trabalho, ele largaria a vida no país de origem, sua própria carreira e outros projetos, para lhe acompanhar?” E a resposta, infelizmente, já conhecemos… Elas/nós não acreditamos que eles fariam o mesmo. Porque papéis sociais empoderados quase ninguém quer largar, mesmo que sirvam ao sistema, mesmo que esgotem nossas forças, mesmo que deixem parceiras em situação de desvantagem social.
E para terminar esse texto apontando alguma saída, uso as palavras da própria Nancy Fraser (2013, p. 1) sobre reflexões para o próprio movimento feminista, que, no entanto, servem à sociedade de modo mais amplo:
“Em primeiro lugar, devemos romper o vínculo espúrio entre nossa crítica ao salário familiar e ao capitalismo flexível, militando a favor de um modo de vida que não gire em torno do trabalho assalariado e valorize as atividades não remuneradas, inclusive, mas não só, os “cuidados”. Em segundo lugar, devemos bloquear a conexão entre nossa crítica do economicismo e as políticas de identidade, integrando a luta por transformar o status quo dominante que prioriza os valores culturais da masculinidade, com a batalha pela justiça econômica. Finalmente, devemos reduzir o falso vínculo entre nossas críticas à burocracia e ao fundamentalismo do mercado livre, reivindicando a democracia participativa, como forma de fortalecer os poderes públicos, necessário para limitar o capital, em nome da justiça”.
É isso. Termino evidenciando nossa grandiosa tarefa atual: busca da democracia participativa, da economia solidária e da equidade dos papeis de gênero por esses caminhos globalizados que temos hoje. Uma banana aos modelos de gênero que se aliam ao capitalismo de exploração. É possível fazer diferente, para que não mais biografias – em especial, as femininas – se mantenham em submissão.
Referências:
FRASER, Nancy. How feminism became capitalism’s handmaiden – and how to reclaim it. The Guardian. Out. 2013. Disponível em: https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal?CMP=twt_gu. Acesso em março de 2018.
FRASER, Nancy. Fortunas del Feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal. Madrid: Traficantes de Sueños, 2015.
HAN, Byung-Chul. El Sociedad de Cansancio. Barcelona: Herder Editorial, 2017.
Clarissa De Franco é psicóloga da UFABC, mestre e doutora em Ciência das Religiões, com Pós-Doutorado em Ciências Humanas e Sociais. Atua com gênero e religião, direitos humanos, morte e espiritualidade.

