Rainer Maria Rilke escreveu, nas Elegias de Duíno, que “Todo anjo é terrível”. Terrível, porque imensurável, inapreensível, aterrador. Terrível, porque, se ouvíssemos, ainda que por um breve momento, a sua voz, o murmúrio inaudito, o sussurro silente das coisas sem nome, a palavra impossível, de tão vasta, “destruir-nos-ia o próprio coração” e, por isso, pelo espanto imenso, escutamos, entre o receio e a tentação, o vento entre os corpos, o suposto vazio nos intervalos da paisagem, “a incessante mensagem que o silêncio prodiga”. Naquela manhã, o que eram todos aqueles ouvidos atentos, buscando a lembrança sutil de uma imagem qualquer, senão mensageiros que traziam, sem caber nas palavras, qualquer coisa fugidia, qualquer coisa que, fazendo morada no interior, escapava da língua e se refugiava, ardilosa e sorrateiramente, no infinito particular de cada um dos universos organizados em semicírculo, dos mundos postos à minha frente?
Éramos três,
a professora, uma amiga de tempos, responsável pela sala; um professor convidado, também amigo e mestre de anos a contar, e, para tagarelar sobre leitura e literatura, eu. Os alunos chegaram, os comes e bebes chegaram, a representante da direção chegou e, depois de um agradável café, nos sentamos para conversar. Começamos pelas apresentações. Cada um respondeu se gostava ou não de ler e, em seguida, disse o seu nome – o nome que havia escolhido para si, diferente daquele dado, da palavra radical que ganhamos, ainda miúdos e recentes, para amarrar em torno dela as nossas coisas mais profundas.
Era um nome outro, colocando em paralelo a rama de sons que, até naquele momento, reunia cada um de nós, agrupando, por trás de cada sílaba, as histórias e os medos, o mito das origens, o chamado antigo dos pais ou de um vizinho já esquecido, substituindo as letras que serviam de base para um mundo de referências ainda maior, para a palavra herdada, posta, a preto e branco, sobre o nome, o nome da família, um termo ancestral – como a carga de Atlas – um lugar cheio de vultos e sombras e rostos mais ou menos conhecidos.
Estávamos todos ali, experimentando, a goles lentos, o sabor estranho daquele renascimento provisório, os olhares passeando de um rosto para o outro, em busca de uma curva que acomodasse a dessemelhança, que melhor vestisse a palavra nova no território já banal e cotidiano das coisas alheias, nas feições do colega, daquele que, sendo outro, era o mesmo estranho familiar. Entre gargalhadas, palmas e cochichos, cada um encontrou, no íntimo, a razão por trás da escolha. Agora,
éramos muitos
e, a partir dessa jornada, seguimos para uma rápida discussão sobre as possíveis diferenças entre o discurso jornalístico e o literário. “Porque, se um texto jornalístico, por exemplo, é ortodoxo (ou se pretende ortodoxo) e ensina ortografia, um texto literário é heterodoxo e ensina heterografia”[1], disse o convidado. Eu disse. Dissemos. “Então, enquanto os textos escritos na linguagem jornalística ensinam a ler e a escrever de forma correta, a literatura e os textos literários ensinam a ler e a escrever bem – e isso não é a mesma coisa. Ler bem não é, necessariamente, ler mais, tem a ver com a qualidade da leitura (do ato de ler) e não com a quantidade – isso diferencia, por exemplo, o leitor e o ledor”. A literatura te ensina a desaprender, a desconstruir o que te prende, ela subverte as normas e brinca com as regras, trabalha o duplo sentido, a plurissignificação das palavras, as possibilidades de interpretação, os múltiplos pontos de vista, a falta de pontuação a leitura de
vagar.
“A literatura te mostra, no óbvio, o que você, até agora, não tinha visto e a crônica, se tivermos em conta os dois ‘lados’, é um gênero híbrido, porque tende, a depender do autor, mais para a linguagem jornalística ou mais para a linguagem literária”, salientou o tagarela. Nós salientamos. Eu falei. Naquela ocasião, ele disse.
Pouco depois, tivemos uma pausa. A dinâmica com grupos menores, assim que voltamos do intervalo, fez com que as pessoas emergissem maiores e mais fortes do que os uniformes e os números. Éramos dez e
éramos todos
um só coração, criaturas voltados para dentro de um círculo, rondando aquele vago – sujeitos autônomos, mas interdependentes, solidários, ainda que solitários, em nossa humanidade. A partir de uma leitura conjunta do “Homem nú”, começamos a conversar sobre tudo e deixamos as ideias livres, despidas, sem tempo que as inibisse, sem vestimenta que as encobrisse. Quanto mais falávamos e expúnhamos as nossas opiniões, mais aparente ficava a redundância de apontar alguém como uma “pessoa difícil”. Nós, por sermos pessoas, somos, essencialmente, difíceis, complexos, multifacetados, intensos. Todos e cada um de nós.
Tivemos, antes do fim, um instante de partilha, comentamos sobre os textos lidos, refletimos acerca de possíveis leituras e a respeito da atualidade do que estava sendo discutido. Quando tudo acabou – e nada, dessa magnitude, realmente termina, porque momentos assim escorrem para fora das horas e sobrevivem, como ilhas, na eternidade – fui caminhando para a casa. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas prefiro acreditar que Ele cinzela melhor nos galhos curvos e que, de nó em nó, entalha o impossível. Aquela manhã inteira foi uma mensagem escrita no revés da palavra, um chamado sem voz, um lugar aberto que não cabe na língua e não sobreviveria (não sobrevive) a uma descrição – por mais longa e densa e pretensiosa que seja. A lembrança, quando recordada, é tão singela e potente que beira o assombro. Aquela manhã, em suma, com cada um de nós orbitando à sua volta, é um mensageiro, um anjo terrível, como diria Rilke. Naquele dia, o que nasceu foi, era e segue sendo maior do que todos os nomes e o melhor, talvez, fosse dizer apenas
obrigado!
[1] Orthós (ορθώς), em grego, significa “reto, direito”; Heteros (έτερος), “outro, diferente”; a palavra Dóxa (δόξα) pode ser traduzida como “elogio, glória”, mas também como “opinião”; e “-grafia” vem de grápho (γράψω), ou seja, “escrever, redigir, compor”. Assim, podemos compreender a ortografia como a “escrita reta ou correta” e a ortodoxia como “opinião reta ou correta”, enquanto a heterodoxia, nesse sentido, seria a “opinião diferente” e a heterografia poderia ser entendida como a “escrita outra ou diferente”.

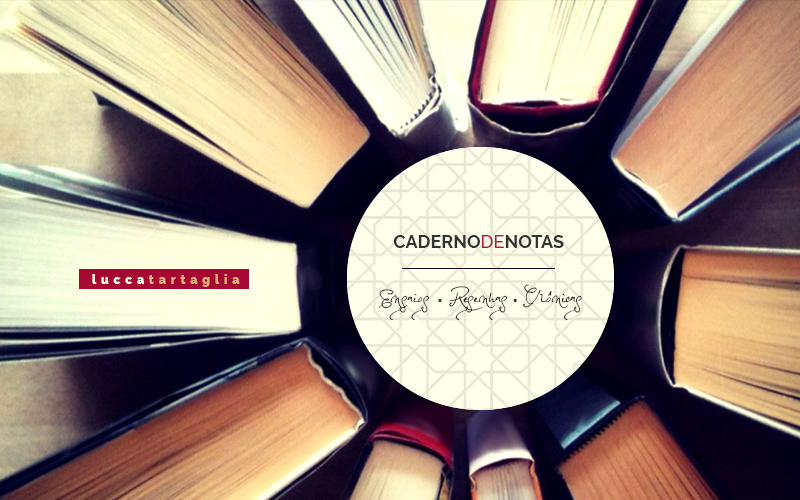

Parabéns, Lucca!
Esse é mais um lindo texto que vc nos presenteia,
abraço grande.