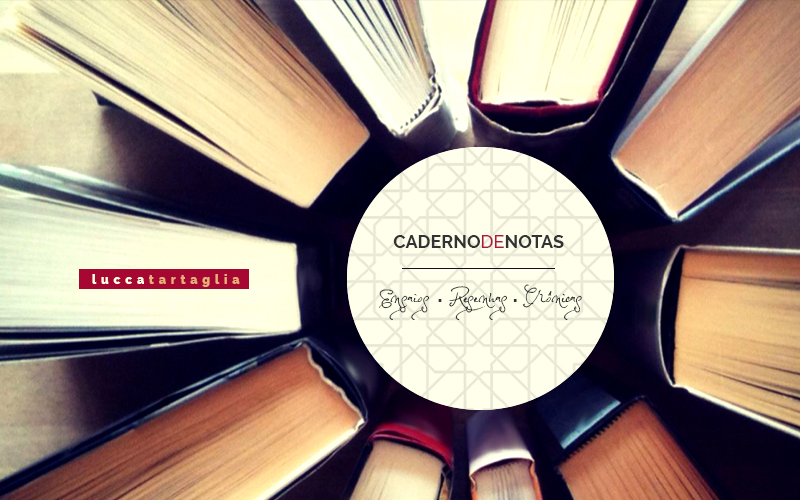Clarisse, volto hoje à casa dos nossos primeiros anos. Como você queria e pediu que fizesse. Se puder – você disse. É claro que eu não poderia, mas você foi embora. Volto hoje à casa. Você estará lá, com certeza. Os seus passos na escada, o seu sorriso de manhã chuvosa, a pele de chocolate e bronze, os olhos de amêndoa. Estará lá a suas roupas de criança pequena e os móveis todos daquele tempo antigo, movendo-se sobre o assoalho da cozinha velha, o cômodo carregado de uma ausência sem fim, enchendo o vazio cavernoso dos cantos de aranhas e teias e moscas presas ao destino. A estrada imensa antes de alcançarmos a modorra da porta, o sol daqueles dias, quando os adultos eram ainda corpos miúdos e os velhos pareciam-se com a figura que temos de nós ao pentear os cabelos. Volto hoje à casa, Clarisse. O correr imenso das suas pernas. A nossa avó ainda aqui. Quando o seu olhar alimentava de promessas o silêncio entre nós duas, quando, olhando-me, entre um gesto e outro, depois do curral, não dizia nada e eu, ouvindo a sua falta, compreendia. Começava ali o nosso adeus. Ali, nas mãos dizendo “nunca mais”, nos bolinhos de chuva e no café da tarde, na louça antiga, na gaveta de talheres, no leite amanhecido das vacas, no pedido rouco dos bezerros e nos vizinhos depois da curva e no brejo e no milharal.
Eram as primeiras frases daquela carta.
Não eram, minha querida irmã?
Não eram aqueles momentos de ternura e sombra, aterrizando no vago das coisas, a nossa primeira despedida? A nossa mãe sempre a nos confundir, sempre a dizer que não nos confundia. Cada migalha que se desprendeu de lento a lento, fazendo – naquela distância – um ruído imperceptível na corrente dos dias, tomba agora como um tropel de cavalos em fuga. O meu desespero de perder você para sempre. De nunca mais você e nunca mais o seu jeito. De nunca mais a sua mão sobre a minha mão e o seu coração também,
nunca mais.
Você deitada, muito quieta, na tarde longa. Um sono impraticável para os lençóis sempre torcidos da sua cama de antes. As nossas amigas foram te ver. Passavam por mim, diziam qualquer coisa. O meu rosto era um consolo de você ainda aqui, nas voltas que dividimos, nos contornos tão assemelhados. Eu sou, para elas, um disfarce de você presente. No entanto, Clarisse, sabemos – as duas – que a minha testa não guarda a escrita profunda daquele tombo, que a sua perna desconhecia a ilustração breve dos respingos de plástico derretido, quando a resistência do chuveiro desmanchou e a gravidade trouxe um pingo pesado para se fundir na minha pele e espalhar-se pelo meu grito, derramando, na pressa da mãe, uma gota de agonia e compaixão.
A nossa mãe,
sempre tão cuidada conosco.
O que eu direi a ela, se conservo em mim a fotografia de uma parte desaparecida? Você sabe, irmã, que vai levando consigo a minha sombra e o meu corpo familiar. Você envelhecerá em mim. Carregarei, de agora para sempre, os meus anos e os seus anos, as minhas rugas e as suas rugas e, se antes tínhamos as nossas diferenças, se tínhamos na superfície qualquer coisa própria, isso tudo desaparecerá.
Os mais próximos se aproximaram,
os parentes distantes, chegando, em rondas ordenadas, circundavam a sua despedida e iam todos montar ponto à porta da capela. Eu procuro ainda uma forma de sofrer. Não sei como chorar você. Não há preparo possível para isso. Chegamos juntas e, por cortesia, haveria de me esperar. Como nos primeiros anos do colégio, você do outro lado da rua, sentadinha a gargalhar com as meninas. Você dizendo-me, com os olhos meigos de fala nenhuma, “estou aqui, viu?”, “te esperei, viu?”. Eu sempre com um medo enorme de ficar só. Porém, com o tempo, aprendi a confiar e acreditei, sem questionar, que você estaria sempre lá, esperando por mim do outro lado da calçada, do outro lado da igreja, do outro lado das encrencas, depois das brigas, depois dos namorados, depois do trabalho e da semana. Estou aqui, minha irmã, vê? Aqui na casa dos nosso primeiros anos. Onde – percebo agora – começava o nosso desencanto. Onde, com o frio prolongado da noite que vinha a trote, a madeira deu os seus primeiros estalos e as estruturas tremeram com a dilatação. Assisto, de frente para a varanda, as mulheres ainda falando, os homens ainda fumando, o gosto pesado das comidas de domingo, nós duas e as nossas primas e primos, nós duas e o cão e as lambidelas e as travessuras do cão e os volumes em cor.
Aqueles movimentos todos escorregaram para fora da esfera do tempo,
caíram na casa de Deus, tornaram-se eternos.
Eu, durante muito tempo, na ilusão de que, se não olhasse para aqueles dias, a morte não os alcançaria, fiquei brincando com o som das vozes nas minhas costas, sorrindo emocionada com uma canção ou outra que – num repente – corria mais rápido do que a vista e vinha ter com o presente. Eu não percebia, Clarrise, que as coisas estavam todas para sempre e que só eu morria e que só as minha vista morria, mas a varanda e a casa e os móveis e as pessoas não.
Agora,
eu te escrevo sempre.
Para compensar – talvez – todas as cartas que escrevi na cabeça, sobre o concreto maleável das ideias, em tinta pouco estável, em papel nada dobrável e posto em jeito de nunca enviar. Todas as cartas que, escrevendo mentalmente, nunca te escrevi. Agora que os seus olhos não podem mais. Agora que as suas mãos não sabem o caminho e os seus dedos finos não acompanham a linha dos rabiscos e os seus braços não sustentam a folha frente à vista. Agora que tenho de acreditar que a minha palma fechada é a sua, que os meus olhos na letra são os seus, que a minha voz – narrando enquanto escrevo – e o meu ouvido interno – ouvindo a minha escrita – são você ao meu lado, acompanhando com cuidado e zelo as minhas tentativas neste caderno de caligrafias e notas e cartas presas por um arame espiralado.
Fico por aqui ainda algumas horas.
Talvez, sentada à escada ou na beira da mureta, eu escreva mais um ou dois grupos de palavras, uma passagem pequena, uma verdade perdida, um segredo ou o nosso fabulário particular. É que sinto uma falta imensa de você, das suas maneiras tão medidas, do seu encanto, do seu desleixo com certas obrigações. É que sonho os seus dias futuros na minha própria imagem, na sombra do meu estar no mundo, no reflexo da minha aparência, no rastro morno do meu semblante. É que a lembrança colossal da nossa mãe velando a sua partida é como uma rocha cerrando a boca da minha vontade, um murmúrio profundo que não se cala nunca. Nós duas – frente a ela. Você, um horizonte, um vale entre montanhas de flores, uma lago descansando a candura entre o aconchego aflitivo das pétalas e um arquipélago de contas a boiar sobre os nós entrelaçados, duas ondas congeladas no momento do choque.
Eu,
perpendicular,
aprumada, como se tudo por dentro não tivesse vergado como um girassol no cair da noite, como falta de água nas mudas lá do pátio, um carrossel sem eixo e os potrinhos todos a dançar aquele aceno estático de caretas fincadas num desassossego sem fim. Sendo a coluna que sustentava – naquela hora – o teto dos acontecimentos, deixei para o lado a verdade do seu acabamento e fui coser com as coisas do imediato, o peso insustentável de cada oceano que seguia encoberto na lágrima corrida pelo rosto madura da mãe, a fome dos parentes de fora, o preparo do café, a coroa de flores, o seu preparo, Clarisse, o seu banho, as suas roupas. Eu procuro ainda uma forma de sofrer. Não sei como chorar essa parte amputada de mim, porque sinto ainda formigar a sua presença perto, sinto ainda a cócega ligeira do seu lábio fresco no solo assustado das minhas bochechas, o seu abraço largo, o fardo inteiro do seu corpo colado ao meu corpo de sempre. A sua luz a iluminar o assombro gigantesco do seu próprio sumiço.
Agora,
fico por aqui mais um pouco,
devo assistir aos episódios mais distantes daquela primeira temporada, nós duas muito estreitas, muito coladas ainda ao chão, simulando o papel inadmissível dos adultos sobre a carne artificial dos brinquedos, ignorando já os primeiros ensaios do abandono e a chamada, ainda frágil, do que a vida espera.