Felipe Eduardo Lázaro Braga
Tem muito adjetivo por aí tentando definir o que é grafite, o que é pichação. É uma arte exasperada arruinando o espaço urbano? É o traço original da periferia que ousa reclamar protagonismo nos centros de legitimidade? É entretenimento de juventude, colorido sob medida para estampar camisetas e assinar coleções, uma arte transgressivamente bem paga? A verdade é que arte urbana não admite artigo definido, ela nasce de um rosnado plural, se reinventa em cada esquina de rebelião e, ao longo do caminho, acaricia imagens na autorização metropolitana, uma arte que ofende e sorri urbanidade.
O grafiteiro, no entanto, não é autor do seu grafite, porque a obra de arte grafite não é uma imagem, não é uma mensagem, não é um rabisco. O grafite no espaço urbano é um processo, é uma criação continuada, é uma constante e delicada negociação entre a ambição do desacato, a expectativa sempre frustrada de sobrevivência, e o julgamento intransigente do efêmero. O traçado do artista de rua inaugura uma biografia visual que se cria enquanto existe, que é atropelada, ofendida, retocada, poluída: as cores derretem a intenção do artista na primeira chuva de granizo; o morador de rua, ao acender sua fogueira de solidão, pinta a intervenção de penúria; o pichador homenageia a autorização grafiteira com a delicadeza do atropelo. O quadro resultante é uma cacofonia de intenções e indiferenças que o tempo cumpre de descolorir, a verdadeira artista metrópole desenhando camadas e camadas de existência naquela pintura urbanamente coletiva. Nesse sentido, o desgaste não compromete a intenção original do autor, o desgaste, a soma, a sobreposição, o vandalismo, tudo isso é obra viva, uma linguagem dinâmica construída de duração e rebeldia.
Essa diluição da autoria artística nos rancores da cidade dinamiza uma linguagem que, antes de ser imagem, é local, é território, e é performance: a provocação pichadora no alto do edifício não pretende ser conteúdo, não pretende ser inteligível, sua máxima ambição é ser ato, ato em si, um testemunho de desassombro juvenil que, de ponta cabeça e pendurado pelos tornozelos, imprime virilidade na poluição urbana. A pichação não diz nada, a não ser a própria presença. Esse ato aparentemente gratuito de violência visual só transborda ousadia porque escala os locais inacessíveis da cidade, sua potência se constrói na dificuldade, seu discurso vangloria a conquista indecifrável dos espaços.
O picho exibicionista e colossal, lá no alto do edifício central, consegue impressionar até o mais respeitável cidadão de bem, ainda que, para tanto, ele também ofenda, destrua, provoque indignação. O picho impressiona porque é absolutamente impossível chegar naquele ponto riscado do prédio; o impressionante, na verdade, não é a inscrição em si que, para todos os efeitos, é ininteligível, mas a inscrição como testemunho inequívoco do ato de ousadia, de insanidade, de vaidoso vandalismo, que escalou a verticalidade sem arestas do edifício apenas para rejeitar, com spray e atrevimento, uma invisibilidade condenada a ser multidão. Quando o pichador trapaceia o impossível e cicatriza sua marca no prédio, o conjunto confuso de rabiscos diz claramente: “eu estive aqui”, um ato que é, ao mesmo tempo, celebridade e anonimato. O diálogo entre intervenção e local de disposição estabelece as chaves interpretativas que condicionam sua leitura, sua recepção, seu alcance comunicativo.
E o mesmo vale para a figuração que, a despeito de ser um texto imagético, uma unidade inteligível de significado, paga igualmente seu débito com o espaço. Olhe rápido: estêncil e spray. Tinta vermelha, ainda escorrendo. No retrato, dois caras se beijando. Fachada de ONG LGBT. De novo: estêncil e spray. Tinta vermelha, ainda escorrendo. Retratados ali, dois caras se beijando. Fachada neopentecostal. Numa parede, orgulho e autoestima. Na outra, afronta e provocação. Imagens gêmeas completamente diferentes entre si, cada qual transbordando o significado que roubam do entorno.
Mas se é verdade que o espaço de disposição altera as possibilidades de leitura da obra, também é verdade que a intervenção artística, ela própria, protagoniza transformações na percepção e vivência da cidade. A poesia lambe-lambe debochando das nossas certezas absolutas de ocasião, logo ali embaixo da pilastra ordinária, conduz a desatenção transeunte para aquele ponto específico de inexistência, e que, antes da intervenção, nada era senão invisibilidade. O gesto estético direciona o olhar para os sinais de ação sobre a cidade, transforma um não-lugar em holofote de entusiasmo, requalifica o banal em literatura, esse pequeno gesto de criatividade que, apagando pouco a pouco, transpira generosidade ilegal. A pilastra ordinária do túnel não existe no horizonte de percepção urbana, embora seja concreto e tonelada. Ela está, antes, condenada a ser paisagem habitual, completamente camuflada de familiaridade. A intervenção artística, cinicamente desautorizada, obriga os espaços a serem visibilidade, na esteira da viela abandonada que, grafitada, se transforma em espaço de convivência, ocupação e insubordinação. Se a cidade produz grafite, também o grafite produz cidade, num pacto mútuo de requalificação e insurgência.
Mesmo assim, toda intervenção está condenada, desde o nascimento, a perecer diante da sentença cinza, ainda que algumas delas, premiadas pelo bom comportamento, conquistem invejável longevidade urbana, em especial aquelas sorridentemente coloridas. Quando uma intervenção é anulada da guerrilha visual, ela cede espaço para a hostilidade seguinte, de sorte que a inexistência de uma fecunda o discurso debochado da próxima: faz parte do jogo. A visualidade urbana vai se modificando gradualmente, abrindo espaço para novas intenções e outros afetos. Cada apagamento individual é, assim, um convite à revitalização coletiva: se o cinza emudece uma sílaba de contestação para impor o silêncio monocromático, a ausência repentina de uma inscrição provoca uma gritaria grafiteira que, engrandecida e aglomerada, inunda os muros de desacato, absolutamente agradecida diante da nova moldura pronta para o restauro ilegal. Nesse sentido, os apagamentos trabalham para a arte de rua, e não contra ela, porque produzem uma linguagem que só se conserva quando destruída, só permanece quando eliminada.
Toda essa intensidade transformadora, caprichosa, provocativa, às vezes colorida, às vezes hedionda (não raro ambas), produz uma crônica urbana que, diariamente reinventada, narra a cidade em páginas de cimento e agressão. Interpretar esse excesso metropolitano nas camadas reveladoras de tinta indica a qualidade contemporânea, imediata, urgente do grafite, uma sucessão de discursos mais ou menos inteligíveis, mais ou menos indispensáveis, que faz escorrer, nos muros e esquinas, as aflições de uma geração.
A estética urbana, contudo, permanece sendo a prima pobre do clã artístico. Se é verdade que alguns espaços incontestes de legitimidade albergaram mostras e exposições de grafite, arrastando atrás de si filas e filas de popularidade, é igualmente evidente que as intervenções metropolitanas não escalaram o mesmo prestígio e reconhecimento que as suas congêneres de estética contemporânea (a já centenária estética contemporânea). O gesto spray vai infiltrando a metragem do cubo branco na condição de linguagem jovem, um tanto pitoresca, sem dúvida despojada, aquele convidado que, embora interessante e bom de papo, ainda não aprendeu totalmente os macetes do novo espaço de convivência. Esse olhar nem tão sutil de superioridade que o paradigma de arte contemporânea lança sobre a arte urbana é, contudo, um olhar de miopia: as intervenções do espaço público conseguem potencializar o projeto estético vanguardista ao seu mais destacado termo, atacando, no caminho, as concepções fundamentais de autoria, artista e ato criador, não só porque enraíza o gesto artístico no cotidiano das aflições urbanas, mas porque desautoriza a tutela da conservação, protagonizando uma arte de deliberada efemeridade. O gesto estético-urbano não está separado do transeunte por uma muralha de apreciação desinteressada, ao contrário: é a agência do grafite, da pichação, da intervenção em alterar constantemente a cidade, construí-la visualmente, provocá-la em spray, que estabelece a união fundamental entre arte e vida, arte e passionalidade, arte e revolta. Nenhuma outra linguagem conseguiu submeter o excesso metropolitano com tamanho desassombro ilegal, o pequeno ato de pintar uma parede que se transforma em quilômetros e quilômetros de insistência, teimosia e saturação. Cada pequeno gesto de spray, nesse sentido, carrega em si a escala indomesticável da cidade.

Intervenção de lambe em Lisboa. Fonte: https://ephemerajpp.com/2018/07/16/ruas-e-paredes-de-lisboa-julho-de-2018-2/20180716_085312-1/ (Acesso em: 06/04/2019)

Pichações no centro de São Paulo. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/362610207470371078/ (Acesso em: 06/04/2019)
AUTOR
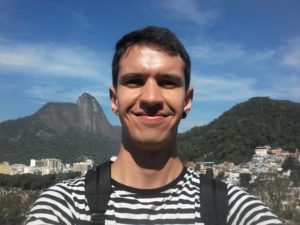
Felipe Eduardo Lázaro Braga é graduado em Ciências Sociais, e mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Estudante de Filosofia na mesma instituição. Escrevo sobre arte contemporânea, e trabalho com pesquisa de mercado e opinião.
E-mail: braga.felipe@aol.com



